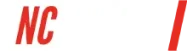A Lei Magnitsky é um instrumento legal utilizado pelos Estados Unidos para impor sanções a cidadãos estrangeiros acusados de violações graves de direitos humanos ou corrupção em larga escala. Recentemente, o uso dessa norma ganhou destaque ao ser aplicada contra o ministro do STF Alexandre de Moraes e sua esposa, Viviane Barci de Moraes.
O que é a Lei Magnitsky?
A Lei Magnitsky foi originalmente sancionada em 2012 pelo então presidente dos EUA, Barack Obama. Ela visa responsabilizar individualmente agentes de governos estrangeiros envolvidos em abusos de poder. Portanto, não se trata de uma sanção ao país como um todo, mas sim a figuras específicas.
Inicialmente, a lei focava em oligarcas russos ligados à morte do advogado Sergei Magnitsky, que investigava corrupção em seu país e faleceu sob custódia. No entanto, em 2016, os Estados Unidos expandiram o escopo da norma, tornando-a global. Assim, a Lei Magnitsky passou a ser aplicável a qualquer cidadão estrangeiro comprovadamente envolvido em corrupção ou violações sistemáticas de direitos.
Sanções recentes contra Alexandre de Moraes e sua esposa
Os EUA anunciaram, em julho de 2025, sanções contra o ministro Alexandre de Moraes com base na Lei Magnitsky, o que representou um precedente, já que é a primeira vez que um membro do Poder Judiciário brasileiro é sancionado dessa forma. Além disso, em dezembro de 2025, os Estados Unidos estenderam as sanções à esposa do ministro, Viviane Barci de Moraes.
Essas sanções bloqueiam eventuais bens da ministra nos EUA e proíbem cidadãos norte-americanos de fazer negócios com ela. Além disso, a pessoa sancionada pode ter seu visto negado ou cancelado, perder acesso a serviços financeiros internacionais e sofrer danos significativos à reputação.
Como funcionam as sanções da Lei Magnitsky
- Impedimento de entrada nos EUA ou cancelamento de visto já concedido;
- Bloqueio de ativos financeiros na jurisdição norte-americana;
- Proibição de negócios com cidadãos e empresas dos EUA;
- Reputação manchada, ao constar em uma lista pública de violadores de direitos humanos;
- Sanções secundárias a instituições financeiras que mantiverem vínculos com o sancionado.
Por conta da severidade dessas penalidades, alguns especialistas chamam a sanção de “pena de morte financeira”. Isso porque, na prática, a pessoa pode ser excluída do sistema financeiro internacional.
Contexto político e reações no Brasil
O uso da Lei Magnitsky contra autoridades brasileiras se insere em um contexto de crescente tensão entre os EUA e o STF. A administração de Donald Trump tem adotado uma postura mais agressiva em relação ao Judiciário brasileiro, especialmente após decisões que limitaram a liberdade de imprensa ou restringiram atividades de organizações ligadas aos EUA.
Além disso, tramita na Câmara dos Deputados dos EUA um projeto chamado “Sem Censores em Nosso Território”, que prevê a deportação de “agentes estrangeiros” que tentarem censurar cidadãos norte-americanos. Embora o texto não cite diretamente o Brasil, seu teor sugere uma resposta às ações do STF.
Diante disso, o ministro Moraes reagiu com firmeza, afirmando: “O Brasil deixou de ser colônia em 1822”, reforçando a soberania nacional e a independência do Poder Judiciário.
Conclusão
A Lei Magnitsky é uma ferramenta poderosa nas relações internacionais, usada pelos Estados Unidos para punir violadores de direitos humanos e agentes corruptos. Embora seu objetivo seja nobre, sua aplicação política gera controvérsias, especialmente quando envolve autoridades de outros países. No caso do Brasil, a sanção reacende debates sobre a interferência externa e os limites da soberania nacional.